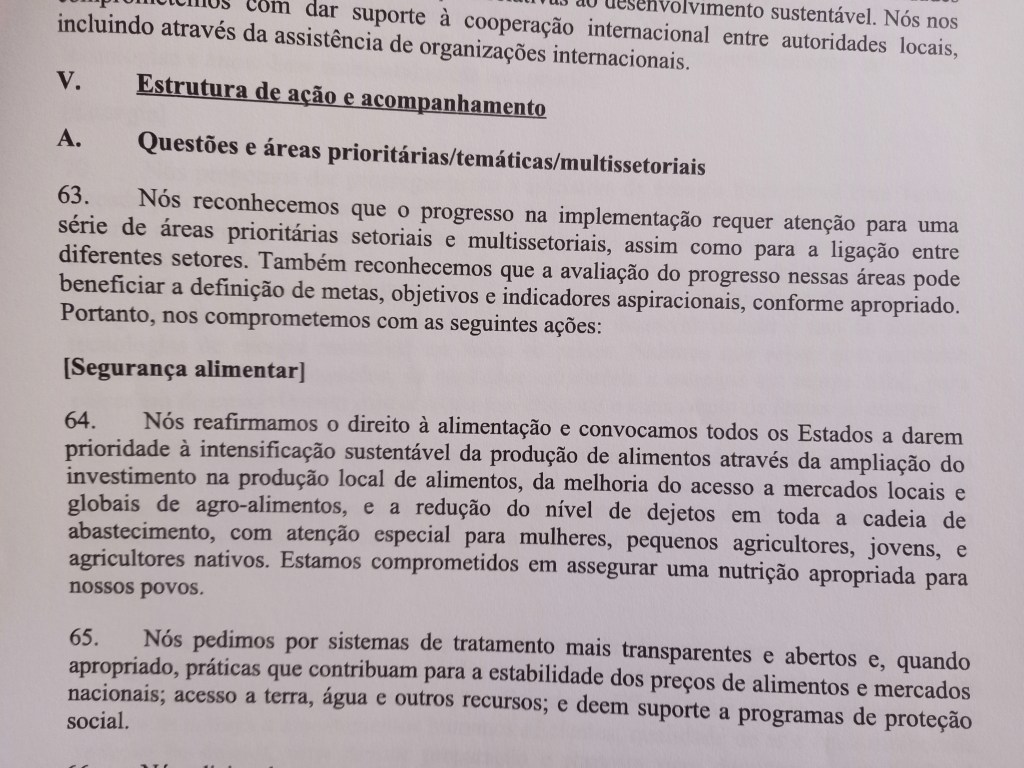Dos 497 municípios do Rio Grande do Sul, 471 foram fortemente atingidos pelas enchentes no Rio Grande do Sul causadas pelas chuvas que caíram sobre o estado no fim de abril e início de maio deste ano. O que teria salvo da maior tragédia as 26 cidades restantes? O fato de eles terem como prática de produção agrícola a agroecologia, que evita romper o equilíbrio ecológico do ecossistema natural, assegurando à terra chance de absorver a água, mesmo em grande quantidade.
A informação é de Eduardo Assad, ex-secretário de Mudanças Climáticas (2011) e engenheiro agrícola de extenso currículo, autor e coordenador do capítulo 2 do Relatório Temático sobre Agricultura, Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos que a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos (BPES) apresentou ontem pela manhã numa coletiva de impresa para a qual fui convidada. Assad se referiu, por exemplo, ao pequeno município de Antonio Prado, com cerca de 12 mil habitantes, como um exemplo de cidade que não sofreu tanto o impacto das chuvas.
“O que nós vimos, na prática, foi uma catástrofe que deixa claro que quando não se conserva o tapete vegetal e se destroi a biodiversidade, as consequências são graves. As chuvas causaram a destruição da biodiversidade em 44% do bioma Pampa Gaúcho, mas 7% da Mata Atlântica foram conservados. Essa destruição vai acontecer em outros biomas, mas se vocês me perguntarem se tem solução, eu digo que tem. Os que foram destruídos foram aqueles que desrespeitaram o Código Florestal. E foi avisado: não plante nem construa casa na beira do rio”, disse ele.
O Relatório da BPES só ficará pronto em setembro, mas ontem foi divulgado o Sumário para Tomadores de Decisão. Trata-se de uma versão resumida, elaborada por 35 pesquisadores, num documento que visa a influenciar gestores e lideranças das esferas pública e privada na tomada de decisões com foco na sustentabilidade e no equilíbrio da tríade agricultura, biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Alguns autores estavam presentes à entrevista, e falaram sobre “soluções sustentáveis para o presente e o futuro que conciliem a prática da agricultura e a manutenção da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos”.
No escopo do estudo, a agricultura é considerada como o conjunto de atividades agrícolas, pecuárias e de silvicultura. E, como ficou claro na fala de Eduardo Assad, a agroecologia está listada entre as boas práticas.
Consciência dos produtores, o maior desafio
Existem futuros possíveis no Brasil, acreditam os pesquisadores, para conciliar produção agrícola feita de maneira consciente e sustentável, com a demanda. Mas é preciso que haja consciência, por parte dos produtores rurais, para não violarem as regras estabelecidas. E esta é, disparado, a parte mais difícil.
“Tem espaço para dobrar a produção agrícola sem derrubar nem mais um hectare de floresta, o pessoal precisa entender que é possível fazer isso, e esse Relatório traz todas as informações necessárias para os tomadores de decisão, para os produtores. O que fizemos no Capítulo Dois foi mostrar que desde que se derrubou o primeiro pau brasil tentamos, com muita força, acabar com a biodiversidade brasileira. Ainda bem que o país é geande e não se conseguiu. Teve ciclo do ouro, da borracha, do cacau, do café, da cana, do algodão. A história se repete, e estamos vivendo o auge do ciclo da soja, que não vai resistir dojeito que está sendo feito. O mercado está deixando muito claro que não compra soja de área desmatada. O pessoal fica preocupado com o futuro, e eu digo: faça direito que vai dar certo”, disse Assad.
Mesmo recebendo elogios, as iniciativas do atual governo federal, de apoio à produção agrícola, segundo os pesquisadores, ainda tem lacunas. Blandina Felipe Viana, da Universidade Federal da Bahia, lembrou que é preciso uma política efetiva de desmatamento zero.
“Eu venho de um estado (Bahia) onde o desmatamento legal, autorizado para conversão em monocultivo, especialmente de soja, na região Oeste, é maior do que a supressão ilegal. E as pesquisas mostram que essa conversão de vegetação natural em monocultivo não se reverteu em índices favoráveis, nem econômicos para o municpio, nem de desenvolvimento humano. Isso quer dizer que há algo errado acontecendo, e que a gente precisa conter a autorização legal de supressão de vegetação”, disse a professora.
Importância das práticas tradicionais
No debate da manhã de ontem, cheio de dados e informações, também houve espaço para se confrontar com o que pode ser considerado um dos grandes paradoxos da nossa atual civilização. Se, por um lado, há a sugestão de respeitar as práticas – chamadas de conservacionistas – dos povos tradicionais, por outro lado é preciso lançar mão de soluções tecnológicas disponíveis para se alcançar a produção agrícola sustentável.
Para o pesquisador Fabiano de Carvalho Balieiro, é desafiador trabalhar com essas duas vertentes, mas “temos que aprender”:
“O legado desse Relatório é deixar a mensagem de que precisamos revisitar essa prática tradicional, incorporá-la à nossa prática. É o que o homem vem fazendo há muitos anos e que se faz hoje de forma mais assertiva e direta na Amazônia. Temos aprendido bastante que o que fazemos hoje no Cerrado não pode ser espelhado para biomas como o amazônico e a Mata Atlântica. Estamos vendo a importância da diversificação dos sistemas de produção, das pastagens, do manejo do chamado regenerativo, que é justamente no sentido da incorporação dessa biodiversidade. É um desafio, mas faço apelo a todos os produtores a incorporarem mais diversidade nos seus sistemas”, disse Fabiano Balieiro.
Bons programas
Em linhas gerais, o Relatório trouxe resultados bem satisfatórios para a política que está sendo implementada para a agricultura no Brasil. Um dos planos que mais empolga os pesquisadores é o ABC, linha de crédito para agricultura de baixa emissão de carbono no país, que prevê também transferência de tecnologia e desenvolvimento. Existem ainda vários outros programas dignos de respeito pela sua eficácia. A interconexão entre ministérios que antes não lidavam com questão ambiental também é um ponto positivo.
“Sobretudo no Cerrado e na Amazônia, há tentativas de conciliação entre produção agrícola, conservação da biodiversidade e serviços ecossistêmicos”, diz o relatório.
Assim mesmo, a crescente pressão sobre a biodiversidade e sobre os serviços ecossistêmicos constitui um desafio que demanda uma governança agroambiental mais eficiente e fortalecida sob diversos aspectos:
“Instrumentos de governança, se bem planejados e implementados, podem contribuir para a conservação da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos em consonância com a produção agrícola nacional”.
Há 47 anos, o relatório dos mil dias
A história precisa ser visitada quantas vezes for necessário. Essa releitura, no entender do historiados Eric Hobsbawm, “não se restringe à passagem do tradicional ao moderno num modelo linear”.
“Talvez os historiadores possam contribuir para um esclarecimento, se não para uma revisão”, escreveu Hobsbawm.
Dito isto, revisitei outro relatório, divulgado em 1987, que se chamou “Nosso Futuro Comum” e que tem alguns pontos bem parecidos com o que ainda será divulgado pela BPES. Escrito por 21 líderes (ou seus representantes), o relatório foi encomendando pela ONU à ex-ministra da Noruega Gro Brundtland para se constituir “uma agenda global para mudança’, necessário frente às questões do meio ambiente e social que se tornaram um desafio. Começou a ser elaborado em 1983 e só ficou pronto em 1987: mil dias depois.
“Foi um apelo urgente para propor estratégias ambientais de longo prazo para obter um desenvolvimento sustentável por volta do ano 2000 e daí em diante”, escreveu Brundtland no prefácio do relatório que se tornou um livro que tenho na estante e que visito bastante.
O relatório Brundtland passeia por questões variadas, apontando desafios e soluções para cada uma delas, e, obviamente, a segurança alimentar foi um dos focos do estudo feito em escala, em reuniões em diversos países. O fato de as políticas agrícolas de quase todos os países se concentrarem no aumento da produção era apontado como um problema, por conta de a erosão do solo já estar sendo diagnosticada em várias partes do globo.
“As políticas agrícolas que visam ao aumento da produção sem se deterem em considerações ambientais também vêm contribuindo bastante para essa deterioração”, alerta o estudo feito há quase cinquenta anos.
Vários pontos de “Nosso Futuro Comum” vieram à memória quando eu li e ouvi as questões postas por nossos pesquisadores brasileiros. A ótica da justiça social está presente nos dois estudos, a necessidade de uma governança adequada da agricultura. Em vários outros destaques há espaço para se pensar sobre o desconforto quando nos confrontamos com a falta de ações eficazes para resolver problemas tão antigos.
Resta celebrarmos este conteúdo, sobretudo porque traça uma trajetória histórica brasileira e coteja com o cenário atual. No mais, fico com a fala do pesquisador Miguel Calmon, que pontuou o fato de estarmos vivendo um momento de crise – que não é nova mas tem acelerado: a crise das mudanças climáticas.
“ O ser humano se move muito na crise. Estamos até um pouco vulneráveis, todos mobilizados para lidar com as mudanças sem perder a liderança agroambiental”.
Para evitar que as decisões mudem ao sabor dos governantes, o que representou um retrocesso tremendo de 2016 a 2022 em nosso país, a sugestão de Calmon é que as politicas públicas positivas para a agricultura virem politica de estado, não de governo.
Afinal, como indica o estudo, “As relações de interdependência entre agricultura, biodiversidade e serviços ecossistêmicos, quando respeitados, asseguram o uso sustentável dos recursos naturais e contribuem para a qualidade de vida em longo prazo para a sociedade”.
Destaques do Relatório da BPES
Agricultura não familiar (commodities) corresponde a 25% do agronegócio mundial;
Agricultura familiar representa 74% da mão de obra no campo e tem grande diversidade nos sistemas de produção;
Em 2020, a agricultura brasileira movimentou R$ 554,67 bilhões em valor da produção e ocupou 33% do território brasileiro;
Brasil tem 20% da biodiversidade global; mais de 400 espécies em sistemas agroflorestais; mais de 40 mil plantas nativas; mais de 250 povos e comunidades tradicionais;
De 1985 a 2022 a área utilizada para a agricultura no país cresceu 95,1 milhões de hectares, 10.6% do território nacional