
Esta salada é uma delícia: trigo, avelã e tomilho. Quem quiser a receita, pode pedir
Quem lê tanta notícia?
Ando me perguntando isto. Sobretudo no período de isolamento, é inacreditável a quantidade de informações que me chega pela web. Nem sempre são notícias que merecem minha atenção total, mas por todas elas eu passo os olhos. Eu e muita gente. Passar os olhos não significa fazer contato.
Hoje, por exemplo, temos a história da quase fritura do ministro Salles, do Meio Ambiente, aquele que disse para aproveitar a doença instalada e fazer passar a boiada. Pegou mal. Deixou o jogo muito explícito, já que não sabia que estava sendo gravado o que dizia.
Além disso, como o presidente Bolsonaro não está podendo circular e produzir notícias escabrosas, nós leitores vamos seguindo passo a passo a desmobilização contra o isolamento Brasil afora. Nosso país está entre os primeiros em casos confirmados da doença, mas já nos consideramos livres da pandemia.
Agora estamos em outra fase, viramos fiscais de quem não segue as regras. Fiscalizamos uso de máscaras, notamos se as pessoas estão nas ruas, nos bares, nas praias. E virou julgamento. Está um julgando o outro porque acredita, ou porque não acredita no vírus. Quem sai e se expõe se sente mais guerreiro do que nós, aqueles que acreditamos na ciência e na necessidade de se praticar o isolamento social para não haver uma mortandade mais acelerada ainda.
Enquanto isto, os comerciantes vão sendo multados porque os clientes burlam a lei. A fiscalização vai em cima dos donos dos bares, não em cima de quem está além do que os governantes comandaram como possível.
Prefiro virar a página. Recebo muitos vídeos também, como todos vocês devem estar recebendo. Um, em especial, feito pela Nasa e que só agora chegou às redes, chamou minha atenção porque mostra a devastação que a humanidade já causou no planeta. Não é notícia fácil de ler, mas necessária. Talvez alguém esteja precisando só disso para ter um insight, para apertar o botãozinho da transformação dentro de si.
Embora sejamos já 7,6 bilhões de pessoas no planeta, isto representa apenas 0,01% de toda a vida que nos cerca. Na verdade, seria melhor dizer que os humanos cercam outras vidas. E já destruímos 83% da vida animal e 50% da biomassa do planeta. Metade de toda a terra habitável já está sendo usada pela agricultura. Nos países pobres, estima-se que 120 milhões de hectares de habitats naturais serão convertidos em fazendas até 2050. Eu disse, nos países pobres. Porque seremos, com certeza, aqueles que continuarão a ser usados como recursos.
A pandemia vai mudar este tipo de comportamento?
Não temos bola de cristal para responder a esta pergunta, e os especialistas vão, apenas, especulando. Prefiro contar como eu fiz a minha transformação e que me levou a diminuir minha pegada ecológica. Quem sabe também ajuda a quem precisa só tocar no botãozinho interno para provocar mudança.
Eu tinha engordado. Como já falei no post anterior, ser dona de um restaurante à porta da falência faz a gente buscar compensação. O açúcar, a farinha e algum álcool (não sou alcoólatra, mas adorava tomar uma ou duas tacinhas de vinho à noite… que às vezes viravam três) dão a sensação de bem-estar instantâneo, e na medida. Mas a conta chegou para mim: dores de cabeça constantes, mal-estar digestivo, mau humor…
Meu médico não me poupou.
“Quer melhorar? Precisa mudar de vida. Tire açúcar, farinha e álcool. Ponha água e chá. E passe a comer em prato de sobremesa para diminuir a quantidade”.
Saí do consultório sem vontade de “tentar” a mudança. Quem apenas tenta, pode não conseguir. O que me guiou foi a certeza de que eu iria provocar a mudança. Como ainda não estávamos no meio da pandemia, fui ao supermercado mais perto, comprei frutas, queijo, algum frio. Já não comia carne vermelha há uma década, mas sabia que eu precisaria de algum novo sabor.
Uma amiga esperta em cozinha deu-me a receita de uma panqueca fácil de fazer pela manhã, para substituir os dois (às vezes três, dependendo do nível de angústia) pães que eu comia lambuzados na manteiga. Ovos, castanha do Pará moída, causando a sensação que eu precisava, de estar saciada.
O primeiro dia da mudança era uma sexta-feira e eu tinha o hábito de me encontrar com amigas, cachorreiras como eu, no bar aqui perto de casa. Bebia uma ou duas cervejas. Naquele dia faltei ao encontro. Mas, na sexta-feira seguinte, eu fui. E levei minha própria bebida: um chá de hibisco quentinho numa pequena garrafa térmica.
Mês que vem fará um ano de mudança. E, de lá para cá, decidi tirar totalmente qualquer tipo de carne da dieta. Como ovos, como queijos e muitas oleaginosas. Invisto nas sementes, nos temperos indianos para dar sabor diferente aos legumes (todos os tipos de páprica ou curry), descobri que outra amiga, vizinha, sabe tudo de receitas maravilhosas sem usar nenhum tipo de produto animal. E vou compondo, assim, minha nutrição.
Reduzi dez quilos, estou mais serelepe, durmo melhor, respiro melhor. De quebra, pus em prática aquilo que venho aprendendo na teoria: consumimos muito menos produtos do que a natureza nos oferece. Estamos (mal) acostumados com o processo de industrialização, que vem facilitando a vida de quem precisa comer rápido, praticamente sem mastigar, com sabores que não surpreendam muito. Portanto, com os produtos de sempre.
Difícil não foi. Passei a usar a expressão “eu mereço”, não diante de um doce cheio de cremes ou de um espumante (adoro até hoje), nem mesmo à frente de pães deliciosos. Eu mereço é viver sem azia, má digestão ou tendo que me entupir de remédios para tirar dor de cabeça.
Esta é a minha história. Singular, única. O fato de estar contando num espaço onde tenho o hábito de escrever notícias, faz parte de minha crença. Penso que estamos, verdadeiramente, num momento de provocar mudanças. Para isto, a rede de informações precisa se ampliar, se diversificar com exemplos e casos de quem conseguiu, de quem tentou e não conseguiu, de quem desistiu ou de quem continua tentando.
Esta troca é saudável. E nos tira do lugar de meros receptadores de notícias.




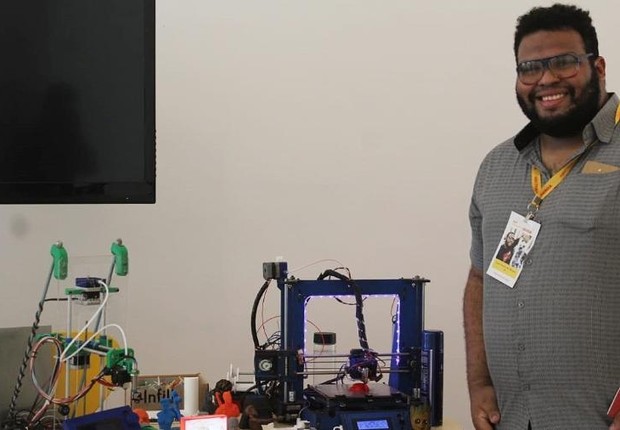
 Lá no cocuruto do caminho que às vezes uso para descansar a mente e os olhos, estava eu, justamente, fazendo um exercício qualquer quando ouvi, ao fundo, uma voz feminina:
Lá no cocuruto do caminho que às vezes uso para descansar a mente e os olhos, estava eu, justamente, fazendo um exercício qualquer quando ouvi, ao fundo, uma voz feminina: